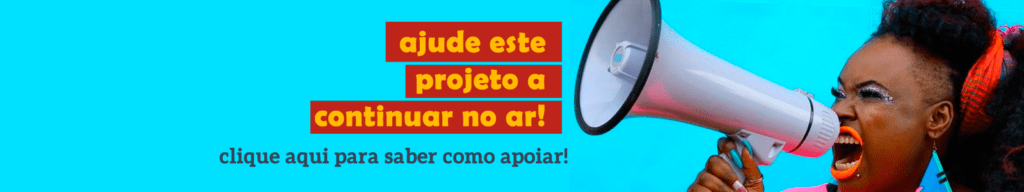Não segurei a onda das dores do parto. Me preparei com alguma leitura sobre o assunto mas confiava sobretudo na natureza, já que minha avó e minha mãe deram à luz naturalmente de maneira maravilhosa e achei que a genética faria sua parte. Porém, quando as contrações começaram a doer para valer, eu não aguentei. Quase dois anos depois, posso finalmente confessar para mim mesma que não aguentei. Xinguei, quis que parassem, fui para o hospital apavorada.
Depois de meses contando o tempo em semanas, alisando a barriga e pensando que não via a hora de conhecer meu filho, não conseguia acreditar que havia chegado finalmente o momento. Era como se eu quisesse ficar grávida por mais tempo – ele estava pronto, mas eu, não. Era isso: eu não me sentia pronta para ser mãe, aterrorizada que estava com tudo que isso implicava. Entre uma contração e outra, uma enfermeira quis me acalmar, perguntando o nome que havia escolhido, e eu não sabia do que ela estava falando – não liguei a dor que sentia ao movimento que meu corpo fazia para que meu filho nascesse. Estava nesse estado de terror.
Talvez por isso não tenha conseguido o parto normal que tanto desejei. Ao invés de ajudar no trabalho de parto para que Raul se transformasse no bebê real que era, pedia secretamente para que a dor parasse e que ele continuasse sendo um bebê imaginário que moraria apenas dentro de mim. Depois de algumas horas de contrações dolorosas, meu filho nasceu de cesariana por decisão do médico e tive uma crise de pânico enquanto ele saía da barriga. Não sei se a anestesia ou o prenúncio da responsabilidade. O caso é que paniquei. Mal olhei para ele na hora em que nasceu, porque tinha a nítida certeza de que morreria sem ar.
Passada a horrorosa anestesia e já no quarto, tentei voltar a mim e senti um senso de proteção imediato com aquele bebê pequenino que havia chegado. Fiz os primeiros contatos da maneira mais serena que consegui. Lembrei da Laura Gutman – a fantástica terapeuta argentina cujo livro li durante a gravidez e me ajudou a entender um pouco o que iria se passar comigo – e falei palavras macias no ouvidinho, peguei no colo e embalei, me apresentei e me mostrei disponível. A amamentação fluiu de maneira tão incrível que me senti mais confiante depois do parto ruim. Raul abocanhou o peito como se tivesse esperado nove meses para isso. Fui invadida por uma sensação de bem-estar e amor nunca antes sentida.
É um estado de plenitude sem falhas, como se tudo girasse finalmente na direção certa. Me sentia um ser realmente poderoso carregando esse outro ser que eu mesma havia feito dentro de mim. Era a parceria perfeita: naqueles primeiros momentos, só havia eu e a minha cria no mundo, o resto não existia ou fazia sentido. Porém, enquanto me ajeitava para descansar das horas do trabalho de parto, das muitas horas sem descanso, Raul começou a chorar e não parou mais por cerca de três horas. Parecia inconsolável por ter nascido. Assim, teve início o meu pós-parto: muita ocitocina e muito choro de recém-nascido.
Nos primeiros quinze dias, Raul trocou o dia pela noite, o que significa que dormia quase o dia inteiro, só acordando para mamar, e à noite chorava sem cessar. Isso é absolutamente natural e o sono do bebê se regula aos poucos, mas eu não sabia disso. Não tinha ideia de quanto tempo aquela insanidade duraria e quanto tempo mais eu aguentaria – quinze dias pareceram quinze anos.
Eu o colocava no carrinho, aquele importado com mil funções, mas ele não se acalmava. Não conseguia embalá-lo no colo por causa das dores da cesariana – foi um mês de dor excruciante. No meu íntimo eu sabia que deveria deixar aquele bebê mínimo colado em mim e ao peito, mas fazia o que achava que deveria fazer e o que era possível naquele momento.
Dava o peito e colocava para arrotar a cada mamada porque fui orientada a fazer isso. Mas arrotar virou um tormento sem fim, já que ele mamava de meia em meia hora e às vezes demorava esse mesmo tanto para arrotar, de modo que o trabalho era incessante.
Ao cabo de quinze dias, porém, ele entendeu que a noite era feita para dormir e se acalmou. Acordava de duas em duas horas para mamar, às vezes de quatro em quatro, e consegui finalmente descansar um pouco. Mas o dia se arrastava lentamente. Ele mamava muito e não dormia no berço ou no carrinho ou na cadeirinha ou em nenhum outro lugar que não fosse o meu colo.
Eu não estava preparada para essa dedicação as vinte quatro horas do dia – por que Raul não aceitava ficar nem dez minutos naquela cadeirinha colorida tão bacana? Me sentia uma prisioneira daquilo, como se eu tivesse me transformado apenas em ninho, como se vivesse somente para ser aconchego. Sofro de claustrofobia e para mim era algo claustrofóbico ficar o tempo todo com um bebê no colo.
Havia lido superficialmente sobre puerpério, confesso que me ocupei (erroneamente) de coisas mais práticas e palatáveis, como roupinhas fofas, decoração do quartinho do bebê, essas romantizações das quais a mulher grávida de primeira viagem em geral se ocupa. Ledo engano.
É certo que por mais que leiamos sobre algo, passar na pele é completamente diferente, mas gostaria que estivesse mais preparada para a solidão. Para o esmagamento da responsabilidade e do amor. Para o isolamento. Para o meu ouvido de cão passar a ouvir cem vezes mais do que já ouvia e o choro do meu bebê me causar dores físicas. Não havia me preparado para isso.
O body com a inscrição engraçadinha me parecia a coisa mais frívola do mundo agora que tinha um bebê real de carne e osso nos braços. Era um sentimento bastante ambíguo: me sentia enclausurada no apartamento hermeticamente fechado por causa do vento frio do inverno e queria quebrar os vidros e sair voando com minhas asinhas debilitadas; ao mesmo tempo, desejava que o mundo todo silenciasse e desaparecesse para que eu pudesse me fechar com meu filho nesse outro mundo chamado puerpério.
Por causa da privação de sono, era como se estivesse o tempo todo envolta numa nuvem de fumaça, os olhos marejados buscavam alguma nitidez fora da bruma. Perambulava pela casa sozinha com um bebê a me solicitar o tempo todo e senti o que a palavra “isolamento” de fato significava. Para a minha personalidade saltitante, enérgica e gregária, esse estado etéreo e solitário foi enlouquecedor.
Sempre tive muita pressa de viver, andar rápido, ver as coisas em movimento contínuo, e um bebê novo nada oferece além do tempo presente, que passa devagar demais para quem está acostumada a andar depressa. Foi extremamente penoso ter de diminuir o ritmo da minha alma para me adequar ao passo do meu filho que acabara de nascer e me pedia, sobretudo, calor e presença. Tive de acessar meu lado primitivo, evoquei o selvagem que ainda habitava em mim e me deixei levar o quanto pude por esse mergulho que o puerpério solicita.
E, quando mais me deixava levar pelas águas profundas, mais me acomodava naquele novo estado. Nos primeiros meses de vida de Raul, me sentia inadequada nos eventos sociais, como se o novo corpo que ostentava não coubesse nos ambientes – era como uma loba desconfiada a cuidar de um filhote e minha novíssima cauda não poderia aparecer.
Me sentia incomodada em qualquer lugar que não fosse aconchegante e seguro o bastante para mim e para o meu bebê. Estava mais cautelosa, atenta aos sons, com as orelhas em pé ao menor sinal de perigo ou desconforto. Como pari em junho, enfrentei os primeiros meses de inverno e pouco saí de casa por causa do frio, de maneira que meu isolamento se intensificou. Aquela imagem de estar com o bebê no parque num lindo dia de sol só foi se realizar mesmo quando ele tinha uns seis meses.
Me sentia constantemente em dúvida e temerosa sobre todas as questões relacionadas ao bebê e os palpites não ajudaram, ao contrário: me deixavam ainda mais confusa e me faziam duvidar dos meus instintos quando, na verdade, tinha de confiar neles como nunca. “Você precisa regular as mamadas, deixar no berço, deixar chorar – ele acostuma; esse bebê está com fome, você precisa dar mais leite, ele está com dor”, era o que diziam. Porém, apesar das boas intenções externas, eu ansiava por ser deixada em paz com meu filhote e entender o que ele necessitava sem interferências.
Hoje vejo que tudo que precisava era entender que os primeiros meses de um ser humano são como a continuação do útero – o bebê precisa continuar aconchegado para se sentir seguro e isso é natural e saudável. Gostaria de ter lido sobre a exterogestação para poder ficar colada ao meu bebê sem que me sentisse estranha ou fazendo algo errado.
Isso não me foi ensinado e acho a informação primordial para as recém-mães: o seu bebê precisa de pele, cheiro, balanço, aconchego, e só vai conseguir isso nos braços da mãe (ou de alguém que faça esse papel). Insisti muito em deixar meu filho recém-nascido no carrinho, na cadeirinha, no berço, enquanto tudo que ele queria e precisava era o meu colo.
Como jamais fui adepta da teoria “deixar chorar”, uma vez que entendi instintivamente que ele só se acalmaria e dormiria no meu colo, foi o que aconteceu por longos sete meses, até retornar ao trabalho. Atendi às necessidades do meu filho de maneira exemplar.
Ele fazia quatro, cinco sonecas de meia hora cada, por dia, todas no meu colo depois de mamar. Passei a funcionar em piloto-automático. As tarefas – tais como fralda, banho, mamada, sono – agora giravam em torno exclusivamente do meu filho e não mais em torno do meu umbigo, como aconteceu por 33 anos. Aprendi a não ser egoísta e colocar as necessidades de outro alguém em primeiríssimo lugar. Como consequência, comecei a esquecer de mim. E como poderia lembrar? Tinha um bebê colado ao meu corpo e essa era a minha missão nesse período. Mas não consegui balancear os dois cuidados e fiquei absolutamente de lado.
Ao me colocar para escanteio, me tornei bastante irritadiça, ainda mais impaciente do que já sou e minha vida se tornou algo pesado. Não conseguia mais me reconhecer. Eu, uma pessoa absolutamente solar, essencialmente positiva e bem-humorada, me vi um tanto sombria, reclamona, vendo pouquíssima graça na vida fora do meu casulo. Uma amiga me falou, em tom de alerta, que eu só falava sobre maternidade. Me alarmei mas depois refleti que não poderia ser diferente, uma vez que estava mergulhada nesse universo o tempo todo: tudo que podia oferecer eram as reclamações sobre o cansaço.
Me afastei de amigos que tinham uma vida social e me ressenti da nova vida que me foi imposta. Quando grávida, sabia das privações que estavam por vir, mas a rotina maçante e a ausência de vida fora do meu apartamento foram coisas que realmente pesaram muito para mim e demorei a aceitar as mudanças.
Num dia especialmente penoso, fui a uma roda de apoio para mães e ouvi algo que me calou fundo. A mediadora, uma moça jovem, mas mãe há mais tempo do que eu, escutou as minhas queixas calada e depois disse: “você precisa de fato embarcar, ainda está com um pé fora do barco – enquanto não embarcar, viverá nesse limbo infernal”. Então era disso que se tratava: não apenas lidar com as tarefas mecânicas e o isolamento, mas de fato aceitar que virara mãe. Com os dois pés firmes no barco.
A maternidade me exige coragem desde o dia 1. Testa dia após dia minha capacidade de doação, entrega e força, me obrigando a descobrir cada cantinho de potência que eu sequer sabia da existência.
Por isso, sinto uma ponta de desespero ao ver grávidas ostentando as barrigas com caras serenas de mocinhas num conto de fadas. Tenho vontade de dizer: prepare-se, mulher, em pouco tempo você será o mundo de outra pessoa e isso não é moleza.
Leia, se informe. Substitua o tempo despendido com a lista do chá de bebê por momentos de meditação e reflexão sobre quem você é e como o puerpério poderá te afetar. Esteja atenta e não se deixe iludir pela maternidade bonitinha-cor-de-rosa que é vendida. Maternidade nada tem a ver com rendinhas e fotinhos para o instagram. Os diminutivos não combinam com maternidade. É mergulho nas profundezas de si mesma e contato com o que há de mais primitivo.
Acho que meu puerpério só teve fim quando deixei de amamentar Raul, aos 20 meses. Essa ruptura fez com que me encarasse novamente no espelho sem assombro. Vinte e três meses depois do nascimento do meu filho, olho para esse tempo com muito respeito. Não romantizo nenhuma parte da experiência, mas hoje vejo como me fortaleceu e transformou. Em alguns aspectos, me salvou.
Me sentia num claustro, numa missão sagrada espiritual de nutrir o ser que eu mesma fiz, e ao mesmo tempo num casulo, envolta para me transformar em alguém com outra roupagem. Ambos, o claustro e o casulo, me isolaram e o isolamento doeu fundo; quem não quer se conhecer de fato sempre encontra algo fora para se distrair.
O caso é que não há saída possível com um bebê: você fica. Por mais que tente fugir, escapar, sair voando, você fica. Foi a única vez que fiquei, encarei o olho do furacão e não corri de medo. Meu filho me propiciou essa mágica, algo que nunca consegui fazer: ficar parada. Depois que deixei meu claustro-casulo, ganhei confiança, auto-controle, altivez. Aprendi a achar outras saídas, ser criativa, botar ordem nas prioridades e administrar o tempo com maestria.
Algumas peças minhas foram colocadas no lugar certo e me tornei a minha nova melhor amiga. Meu quebra-cabeça estava finalmente completo e pude ver a figura que se formou: eu mesma inteira, não mais fragmentada. Depois de meses e mais meses incubada, eu me encaixei em mim.
—
Autora: Marcela Pimentel, 35 anos, sou jornalista e advogada e tenho um filho prestes a completar dois anos. Sempre gostei de escrever mas desde que me tornei mae, a escrita tem me ajudado a entender a maternidade. Tenho uma página no instagram (@contosderaul), na qual escrevo sobre os dilemas, delírios e tudo o mais do meu maternar.
—