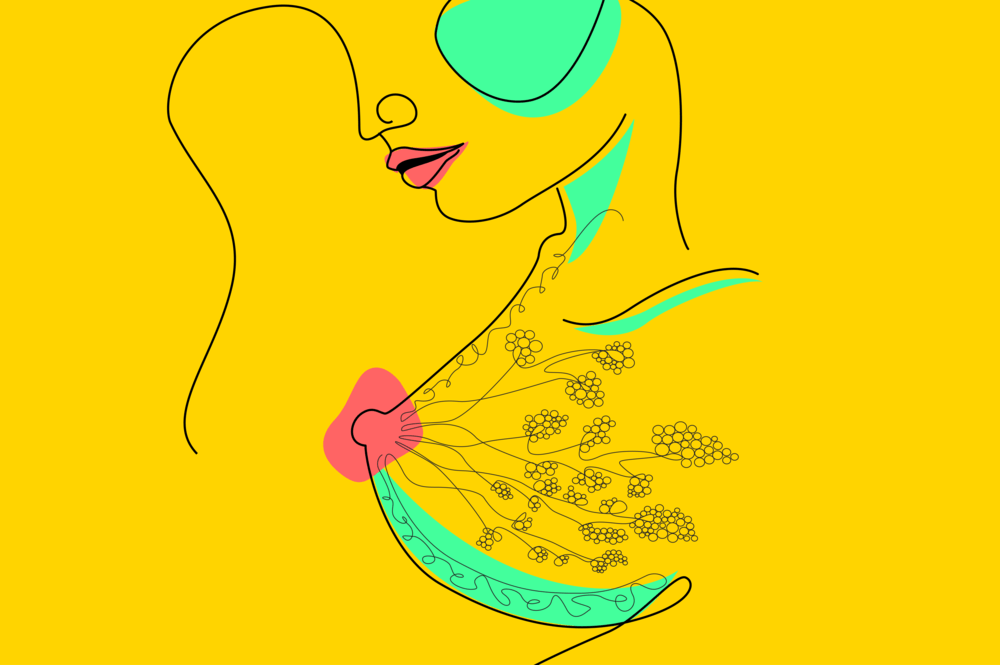Estar sob o guarda-chuva da escrita. Da alfabetização. Do dominar de signos e significados. Parece algo corriqueiro. Banal. Ainda que tenhamos que contornar desafios. Ainda que precisemos acordar de madrugada. Misturar a inspiração para o próximo texto – à casa, comida, roupa lavada, filhos, trabalho formal, informal, preocupações, saúde, casamento, separação, dinheiro, falta dele. Ainda que quase falhemos no prazo de entrega do conteúdo mensal. Ainda que peçamos uma pausa – por acreditar que não será possível cumpri-lo. Ainda que nos sintamos vazias. Sem nada a dizer. Ainda assim. Somos mães que escrevem.
No último sábado, tive oportunidade de estar ao lado de mães que não escrevem. De mães que não sabem escrever. De mães que não se atrevem a tentar colocar palavras no papel por terem estudado tão pouco.
O que a ausência da capacidade de escrita e leitura tira dessas mulheres? Foi o que me perguntei quando as vi diante de mim. Várias. Variadas. Filhos no peito. Filhos no chão. Dentes faltando. Desânimo sobrando. Força recolhida. Olhar desesperançado. Voz baixa e claudicante. Resistentes ao que eu lhes vinha propor – ao substituir sua usual professora dos sábados, em uma prática voluntária de reforço das habilidades de leitura e escrita.
Era tão pouco tempo. Uma manhã. Era tanto tempo. Três horas. Éramos nós. Iguais. Mães. Mulheres. Donas (ainda que não soubéssemos ou não soubessem todas) de sonhos e desejos. Impostas a vencer desafios diários. Desde lidar com a saudade de um filho ou amor. Ausentes. Até assumir a dor da solidão. A lacuna deixada por pai sem nome na certidão.
Eu lhes levei um texto meu. Falava sobre feminicídio. Foi lido por elas com vagar, parágrafo por parágrafo enquanto passava de mão em mão. Eu pedi que contassem suas histórias. Umas às outras. Para ouvi-las de outras bocas. Agora sabedoras de seus segredos. De suas necessidades. De suas trajetórias. Pedi que elegessem um sonho. Pedi que apontassem o que faziam de melhor. Elas mesmas. Por força de sua própria capacidade.
Ouvi de volta vontades simples. E enormes. Talvez ditas. Assumidas. Escolhidas. Refletidas. Pela primeira vez. A casa própria. O curso. A viagem. Apenas uma não encontrou um sonho dentro de si. Outra se recusou a falar. Não ia contar de sua vida a ninguém. Ouvi também suas melhores habilidades. Ser manicure. Fazer um bolo. Um doce de amendoim. Cuidar de crianças.
Ao se (re)conhecer, elas que são vizinhas, que passam juntas as manhãs de sábado, deram conselhos e dicas às outras. Pela força da troca. Da solidariedade. Da compaixão.
Recitei poemas. Cantei. Cantamos juntas. Uma ou outra arriscou o ritmo com palmas. Com um gingar ainda envergonhado do corpo. Ao final, o papel voltou a circular. Estava em branco. Mas retornou pintado por letras que agora compunham a produção coletiva de um texto. A primeira frase foi pega da fala de uma delas.
A que se recusou a falar de si. Agora dava lições de vida. Em alto e bom som. “Eu não tenho tempo para ter medo”. Seguiram extirpando da vida e do tempo, colocados na folha em letras que já arriscavam vir ao mundo, coisas que não lhes devia amedrontar. Paralisar.
Uma onda de fortaleza. De confiança. De troca. De identificação. Passou por ali. Um sopro de alegria. Uma ventania de esperança. Uma tempestade de fé. Uma lufada de renovação. Passaram por mim. Éramos todas Mães Que Escrevem.
Sussurros me lembram a todo instante. “Eu não tenho tempo para ter medo”. São as vozes daquelas mulheres que tanto me ensinaram. A ler (lhes). Numa manhã de sábado. Era tão pouco tempo. Mas virou eternidade.