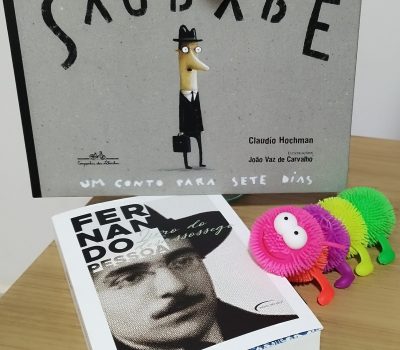Crescer como uma pessoa negra em um ambiente majoritariamente branco e de condições econômico-sociais favoráveis, não te torna pertencente àquele lugar na sociedade.
A experiência do racismo no Brasil, que tem na democracia racial o seu mito estruturante, opera nas subjetividades e nas relações definindo lugares e não-lugares aos sujeitos. Fazendo das experiências de socialização nestes espaços de “fronteira social”, como uma experiência de negação de si e enquadramento.
O filósofo Martiniano, e radicado na Argélia, Frantz Fanon bem retrata essas relações em “Peles Negras, Máscaras Brancas”; obra na qual denuncia como pessoas negras vestem “máscaras brancas” para sobreviver, objetivadas a partir de valores e padrões de que: “bom é ser branco”, e que “quanto mais branco, melhor”, portanto, “embranquecei-nos, e embranquecei-vos a cada geração”.
Afinal, garanto que alguns leitores aí já devem ter ouvido, ou até mesmo reproduzido a fala: “que bom que nasceu com cabelo bom” ou “pelo menos os traços são finos” ao se referir a crianças e bebês nascidos de relações interaciais.
Nesse sentido, narro em primeira pessoa essas experiências como alguém que, por ser negra de pele não retinta, teve sequer a percepção de sua negritude até a casa dos vinte anos. Alguém cuja identidade se resumiu ao ser “moreninha” ou “da cor do pecado” por boa parte da vida.
Grosso modo, isso implicou em um profundo sentimento de desconexão, desenraizamento e de tentativas sistêmicas de adequação. Algo que começou ainda na segunda infância através de meu corpo e meu cabelo.; cujos tratamentos de alisamento foram realizados a partir dos nove anos de idade (e sei de casos anteriores). Tenho arrepios até hoje quando ouço a música “Leãozinho”, cujo refrão era cantado à exaustão pelo parente não negro, fazendo referência a “minha juba” ao acordar.
Tão logo passei a frequentar a escola, experimentei o preterimento nas escolhas dos pares para dançar nas festas juninas, bem como a chacota cotidiana que se fazia ao meu biotipo (negro e gordo).
Entendi, portanto, que deveria me fazer bem quista tentando aproximar minha estética ao padrão, bem como, fortaleci minha relação com os estudos para que as pessoas se aproximassem de mim na emergência de querer fazer trabalhos e tirar boas notas.
Aprendi a negociar minha aceitação sendo a “melhor amiga” dos mais populares na esperança de que poderia ser notada ante ao brilho irradiado por estes, e que poderia vir a se refletir em mim.
Aprendi a fazer “favores”, a ceder escuta de seus problemas como fiel escudeira, e tive expectativas frustradas quando esperei o mesmo acolhimento e disposição em ajudar-me com minhas próprias questões e conflitos. Neste ínterim, migrava para outras relações, cujos papéis eram interpretados por outros personagens, sem romper com o enredo.
Construí contos de fadas para ser resgatada por príncipes de pele alva e olhos claros, ainda que estes fossem muito mais velhos para terem relações comigo. Mas, me fora dito que “sempre fui muito madura”. E hoje sei que isso tem nome: “hiper sexualização do corpo negro”; um braço remanescente da objetificação de nossos corpos, perpetrado desde que nos consideravam mercadoria para trabalhar e reproduzir.
Esta lógica, até hoje opera no imaginário do modo de pensar das pessoas tornando o corpo do jovem, e pasmem, da criança negra, passível ser qualificado como “malandro”, “sensualidade a flor da pele”, “sacana por natureza”.
E quando me vi grávida aos dezesseis, de um relacionamento com um homem branco dez anos mais velho que eu; tive a letra escarlate estampada no uniforme, dissolvendo “amizades” e decretando-me a exclusiva portadora da culpa pelo mau juízo. Mas, a filha nasceu clara, de textura cacheada. Quantas vezes fui “confundida” com sua babá nos passeios pelo bairro central.
Quando as oportunidades se apresentaram, entrei e saí de relacionamentos sexuais e afetivos de igual natureza, mas foram as “amizades” que mais se apresentaram de formas escusas.
Na faculdade, era eu quem cozinhava e fazia “as honras da casa”, como bem expressou uma apresentadora de TV recentemente, ao se referir a uma convidada negra que faz os quitutes mais apreciados e que foi convocada pela tal apresentadora a servir os convidados. E assim o fiz na mais pura intenção de servir ao poder e ser aceita e objeto de afeição.
Foi assim, por quase trinta anos, até que se iniciasse minha jornada de “tornar-me negra”, como bem narra Neusa Santos em sua obra de nome semelhante; para que eu pudesse enfim, compreender que aquela falta de enquadramento era racismo, e que as tentativas infrutíferas de me fazer “igual” só ratificavam a discriminação a que fui submetida. E que o problema nunca foi comigo. E que, a partir dali, eu que lutasse para me descobrir em essência, tamanho esforço para ser, até então, apenas o que esperavam que eu fosse.
Hoje, políticas de ações afirmativas colocaram outros e outras de mim neste lugar de “não lugar”; questionando a estrutura social e denunciando seu caráter racista. A violência institucional que levou ao brutal assassinato de uma parlamentar negra como Marielle Franco e a morte televisionada e compartilhada de um jovem negro norteamericano pelo joelho da lei e da ordem; contribuiram para que a canção de ninar a Casa Grande parasse de ser cantada em muitos espaços. E, junto a milhões, eu fui às ruas protestar contra o racismo; fiz palestras nos espaços embranquecidos que cresci, e fui ovacionada pelos mesmos que me feriram. Revi minhas relações afetivo-amorosas, bem como as de amizade. Me “aquilombei”.
Aprendi que “minoria” é conceito para escamotear o fato de que nós, pretos e pardos, somos a maioria numérica deste país, e não à toa, somos os que mais morrem de violência nas periferias e a maioria esmagadora da população encarcerada.
Os que mais se encontram em situação de pobreza e miserabilidade e quase todos os indicadores sociais de acesso à direitos sociais (moradia, saúde, educação, cultura e etc) pesam contra nós. Somos a minoria numérica sim, nos espaços de poder e tomada de decisão e lanço aqui o desafio ao caro leitor, que passe a perceber se somos, pelo menos, 50% dos presentes nos espaços que frequentamos.
E mais do que isso. Que passemos a ceder escuta às experiências de pessoas negras nos espaços, caso queiram falar, para que possamos reconhecer o quinhão racista, opressor e abusivo que nos habita. Haja vista que o racismo é um crime que se admite socialmente enquanto existência e quantidade, mas que nunca se admite autoria. Quando muito, se pede “desculpas” e ganha-se seguidores.
Outro dia, volto aqui para falarmos sobre educação anti-racista para que as gerações vindouras não reproduzam as mesmas violências às quais eu e tantas de nós fomos submetidas. Por hoje, eduquemo-nos. Porque aqui, Anastácia nunca mais!